
RIVAR Vol. 5, N° 14. Mayo 2018: 316-319.
Artículos
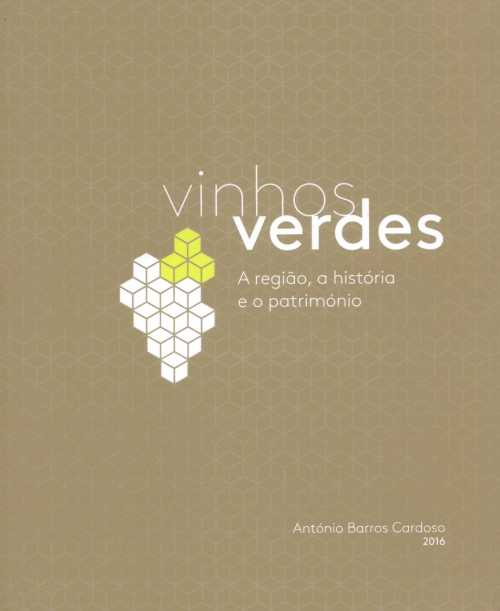
Barros Cardoso, António. (2016). Vinhos Verdes. A região, a história e o patrimonio. Ponte de Lima, Município de Ponte de Lima.
José Luís Braga*
* APHVIN/GEHVID - CIDEHUS - Instituto Politécnico de Tomar Correio eletrônico: zelu.braga@ipt.pt
António Barros Cardoso, historiador especialista em história da vinha e do vinho, examina, no seu mais recente estudo, um território com fundas raízes na História de Portugal: a região dos Vinhos Verdes (RVV). Esta área do Noroeste Peninsular é confinada da seguinte forma: a ocidente é bordejada pelo Oceano Atlântico, a norte é apartada da Galiza pelo rio Minho; a oriente encontra o seu limite nos municípios de Ribeira de Pena e Resende, e, ao sul, o seu termo estabelece-se no município de Castelo de Paiva. Na atualidade, a Denominação de Origem controlada “Vinho Verde” é constituída por nove sub-regiões: Monção/Melgaço; Lima; Cávado; Ave; Basto; Sousa; Amarante; Baião e Paiva.
A obra está estruturada em treze capítulos, procedendo o autor, em cada um deles, ao relato minucioso de todos os aspetos que concorrem para a idiossincrasia da RVV. Ao longo das páginas que compõem a presente obra, somos confrontados com a geografia física da região (o clima, os solos, os rios e a paisagem) bem como com a sua história, desde o neolítico até ao ocaso do século XX.
No capítulo primeiro são postas em relevo algumas características básicas da região, tais como uma forte concentração populacional, uma estrutura de propriedade onde predomina o minifúndio e a abundância de recursos hídricos.
No tocante ao clima do Noroeste de Portugal, este prima pela amenidade e a pluviosidade motivadas pela adjacência ao Atlântico. Além disso, os acidentes do relevo nunca atingem uma altitude elevada. Deste modo, a RVV contrasta com a maior amplitude térmica da região vizinha do Douro. Como não poderia deixar de ser, esta circunstância influência o caráter leve e ácido dos vinhos que são produzidos nesta latitude.
Na região predomina a policultura, estando a vinha tradicionalmente associada a outras culturas: o milho, o centeio, a batata, o feijão; o prado, as árvores de fruto e, ainda, a criação de gado bovino.
No que é atinente à paisagem, Barros Cardoso descreve os principais rios e afluentes da região (Minho, Lima, Neiva, Cávado, Ave, Sousa, Tâmega e Paiva) e a sua importância para a economia local, desde os alvores da nacionalidade portuguesa.
O povoamento é o fulcro do segundo capítulo, no qual o autor faz remontar o relato diacrónico da cultura material de cada sub-região da RVV à Idade do Bronze (2.000 a.C -1000 a.C). Em seguida, a Idade do Ferro (essencialmente a partir do séc. VIII a.C.) e, em particular, os assentamentos castrejos típicos da Península Ibérica, são postos em evidência. A cultura castreja é solapada pela invasão romana, consumada no século II a.C. A romanização, no Noroeste de Portugal, concretizou-se na criação de uma rede viária - com a ereção de pontes e marcos miliários e na criação de uma tipologia construtiva específica, as villae romanas, bem como na difusão de novos hábitos alimentares. Neste contexto, religião e dieta entreteceram-se com a implantação do culto de Baco, consubstanciado nas bacanais, festas do vinho que assinalavam momentos importantes no ciclo deste néctar.
As acometidas bárbaras abriram brechas inexoráveis no limes romano precipitando o fim do império. Assim, no ano de 409, a Península conhece novos inquilinos nos povos migrantes Suevo, Alano e Vândalo. A seu tempo, os povos bárbaros seriam convertidos ao catolicismo.
Barros Cardoso detém-se ainda na evolução das estruturas vinárias (e.g. lagares e lagaretas) e no legado tecnológico agrário da RVV. O historiador demonstra que desde tempos medievos, em terras interamnenses, a ação das ordens religiosas se revelou determinante na seleção das terras e castas mais adequadas e no desenvolvimento do empirismo agrário.
Neste âmbito, os cistercienses, clérigos regulares de origem franca, dissidentes da Ordem de Cluny, ainda que aderentes à regra de São Bento, tiveram um papel de destaque enquanto fautores da viticultura na RVV. A presença da Ordem de Cister é visível nos mosteiros que foram pontuando neste território: o de Santa Maria de Fiães (Melgaço), desde 1194; o de Santa Maria do Bouro (Amares), desde 1195; Santa Maria de Júnias (Pitões de Júnias - Montalegre), desde o século XIII e o de Santa Maria de Ermelo (Arcos de Valdevez), a partir de finais do século XIII. Estes cenóbios beneficiaram, respetivamente, da proximidade de três cursos de água a que já aludimos: o Minho, o Lima e o Cávado.
De facto, na Idade Média, em que a riqueza frumentária era escassa, o vinho adquiria uma grande importância, tanto mais quanto era uma cultura bastante bem adaptada ao clima da RVV. Face às carências da dieta medieval, o vinho apresentava-se como um complemento calórico indispensável.
Os monges mantiveram um papel de destaque na estrutura fundiária da RVV em tempos modernos. O autor dá nota disso mesmo ao fazer o historial de cada um dos cenóbios da região interamnense e das técnicas de granjeio da vinha por estes utilizadas, bem como do papel do vinho na economia monástica e local. Uma fonte importante utilizada para conhecer as principais culturas das freguesias na época moderna são as memórias paroquiais. Barros Cardoso utiliza abundantemente estes inquéritos sobre as povoações enviados em 1758 aos párocos por ordem do primeiro-ministro de então, o Marquês de Pombal.
A exploração fundiária na RVV, tal como sucedeu no resto do país, não foi um exclusivo das ordens religiosas. Na verdade, os senhorios laicos cedo se constituíram em terratenentes concorrentes da Igreja. Aliás, os contratos de aforamento, vulgo prazos, foram celebrados tanto na Idade Média quanto na Moderna e determinavam que uma porção da renda fosse paga em vinho. O mesmo acontecia, com frequência, com os dízimos coletados pelos párocos das distintas paróquias.
Os vinhos verdes conheceram alguma reputação internacional durante a época moderna ao serem exportados pelas barras do norte de Portugal sob a denominação de “Vinhos de Viana” e, não raro, sob a capciosa designação de “Vinho do Porto”.
Como refere Barros Cardoso, desde a Idade Média que o vinho da parte mais setentrional da RVV era exportado para a Europa do Norte. Aliás, a importância deste fluxo comercial ditou o estabelecimento de comunidades de mercadores estrangeiros em algumas urbes interamnenses. Assim, até ao último quartel do século XVII, a maior parte dos vinhos que alimentavam o comércio externo faziam-no através do Porto de Viana do Castelo. Os primeiros mercadores de proveniência inglesa fixaram-se na vila de Monção que funcionou como entreposto de Viana do Lima (atual cidade de Viana do Castelo).
Outro destino preferencial dos vinhos verdes foi o Brasil. Este produto era procurado pelos emigrantes do Norte da metrópole que tinham atravessado o Oceano Atlântico motivados pela descoberta de jazidas de ouro em terras de Vera Cruz. Para além disso, o historiador mostra que, nas tabernas e estalagens da cidade do Porto e de Ponte de Lima, ainda que em menor monta, o vinho verde era, de igual modo, consumido.
As relações privilegiadas entre a RVV e a região do Douro constituem mote para o capítulo seguinte. Nele, o autor põe em evidência o projeto de criação da Sociedade Pública d’Agricultura e Comércio da Província do Minho (1784). Este organismo correspondia à intenção manifestada pelos produtores de Vinho da RVV de replicarem o modelo de gestão da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. Este instituto, em 1756, havia estado na base do estabelecimento, no Douro, da região vitivinícola demarcada e regulamentada mais antiga do mundo. Os signatários viam no projeto uma solução no sentido da qualificação dos vinhos da RVV contra a depredação a que estava votada a viticultura minhota.
Não obstante, a constituição daquela Sociedade contendia com os interesses da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, instituída pelo Marquês de Pombal. Na realidade, este instituto detinha o monopólio das aguardentes da Província do Minho, pelo que a proposta apresentada à rainha D. Maria I foi votada ao malogro.
Diversos barcos sulcavam, no século XVIII, os cursos de água da RVV. Nestes navegavam preferencialmente lanchas e, em menor número, patachos, pinaças, tartanas, entre outras embarcações. Porém, cerca um terço dos vinhos provenientes de Viana com destino ao Porto eram transportados através de carros de bois.
Como referimos acima, os senhorios laicos também estabeleceram importantes unidades de exploração agrícola na RVV, que tomaram a designação de quintas.
Barros Cardoso calcula que se cifrem em mais de duzentas. Deste modo, no capítulo oitavo, o autor faz um roteiro das quintas mais representativas da região, referenciando aspetos significativos da genealogia das famílias proprietárias dos solares. A produção, estruturação e tecnologia da cultura da vinha em cada uma delas - e no espaço circundante - são também aflorados.
As casas solarengas que dominam as quintas apresentam uma arquitetura erudita. Neste contexto, o historiador debruça-se sobre o estilo artístico predominante e as ampliações a que cada uma delas foram submetidas. Sempre que se justifica, Barros Cardoso salienta ainda atividades económicas complementares da vinícola, como o enoturismo ou o turismo em espaço rural, exercidas nas quintas.
O capítulo nono é dedicado aos sistemas de condução da vinha. O autor caracteriza cada um deles: o sistema de mergulhia, comum na Idade Média; a vinha armada em uveira (também conhecida como “enforcado”, comum a partir da introdução da cultura do milho na RVV, no século XVI e que, posteriormente, evolui para “arjão” com a generalização do uso do arame); a ramada que ocupou a periferia dos campos, amiúde também como ornamento; a vinha em bardo (vinha baixa contínua - minoritária na RVV, mas presente na sub-região de Monção/Melgaço em Oitocentos - e predominante a partir do século XX) e a vinha em cruzeta utilizada em algumas quintas da RVV após a segunda metade da centúria passada.
As fitonoses como o oídio, a filoxera e o míldio - que tanta depredação provocaram noutras regiões vitícolas nacionais na segunda metade do século XIX - foram aqui mais brandas. A vindima, a vinificação, as castas autóctones e o modo de armazenamento do vinho verde são, do mesmo modo, escalpelizados pelo autor.
São ainda enaltecidos os paladinos da qualidade e inovação dos vinhos verdes, bem como a evolução recente das vendas dos dois tipos básicos de vinho verde - branco e tinto. Assim, no mercado nacional e internacional, registou-se, a partir da década de 70, uma apetência cada vez maior do branco a nível interno e externo.
A RVV, demarcada em 1908 e o vinho verde - reconhecido como denominação de origem pelo Office International de la Vigne et du Vin, em 1949 - têm registado, nos últimos anos, um sólido crescimento. De facto, na atualidade, a RVV ocupa o segundo posto na exportação nacional de vinhos, razão pela qual o seu futuro se afigura risonho. A presente monografia permite-nos perceber o sucesso presente do Vinho Verde como um processo histórico cumulativo - ainda que não linear.